O Caso dos Espeleólogos: (Ainda) A Propósito do Acórdão Uniformizador de Jurisprudência 12/2015, de 2 de Julho de 2015
O regime da comunhão de adquiridos, o supletivo legal desde o Código Civil de 1966, quando não seja de sujeitar imperativamente o casamento ao regime da separação, é sucintamente um regime em que integram a comunhão conjugal [1] os bens adquiridos 1) a título oneroso 2) durante o casamento 3) que ainda assim não sejam por lei dela expressamente excetuados.
Isto é, afastados estão os bens que cada um dos cônjuges tivesse antes do casamento. Esse são próprios de um, próprios do outro ou, quando muito, detidos pelos dois em compropriedade.
Afastados estão, bem assim, aqueles que cada um deles haja adquirido a título gratuito durante o casamento, designadamente por sucessão, doação ou outra atribuição patrimonial feita com espírito de liberalidade.
Estes bens, se a liberalidade é feita a um, são próprios desse. Se é feita a ambos, integram a comunhão a não ser que o de cujus/doador/autor da liberalidade declare que são detidos em compropriedade. É o que resulta do artigo 1729.º do CC.
Todos os restantes são comuns, a não ser que a lei expressamente os afaste da comunhão – trata-se do princípio do favor communionis [2].
É o caso fundamentalmente dos bens adquiridos em virtude de direito próprio anterior.
É o caso, bem assim, de sub-rogados no lugar de próprios por meio de troca direta, do produto da venda de bens próprios e dos bens adquiridos com bens ou dinheiro próprios (total ou principalmente), desde que, neste último caso, a proveniência conste do título aquisitivo ou de documento equivalente.
São casos de sub-rogação real de bens próprios.
Ao contrário do que acontece com a sub-rogação real por meio de troca direta, a sub-rogação através da aquisição com dinheiro ou valores próprios obedece a pressupostos e formalidades.
É pressuposto que o tenha sido pelo menos maioritariamente com dinheiro ou valores próprios, ainda que possam ter contribuído dinheiro ou valores comuns – cf. o artigo 1726.º, n.º 1 – e é requisito formal a declaração da proveniência do dinheiro no título aquisitivo ou em documento equivalente, assinado por ambos os cônjuges – cf. 1723.º, alínea c).
Trata-se, portanto, como afirma Rita Lobo Xavier [3], de casos em que há concertação entre os cônjuges quanto à qualificação de certos bens adquiridos na constância do casamento. Concertação que só será válida, se preenchidos os requisitos substanciais e formais.
Quanto a esta última parte – a declaração da proveniência dos bens ou dinheiro no título aquisitivo ou em documento equivalente assinado por ambos os cônjuges – há divisões na doutrina e na jurisprudência no que respeita à interpretação da alínea c) do artigo 1723.º.
Essa divisão acontece entre:
1) aqueles que entendem que a omissão dos requisitos contidos no aludido preceito legal (menção da proveniência do dinheiro ou valores no documento de aquisição, com intervenção de ambos os cônjuges) determina uma presunção juris et de jure de comunicabilidade do bem comprado, aplicável quer nas relações entre cônjuges quer nas relações entre cônjuges e terceiros, sem prejuízo da compensação do cônjuge lesado a efetuar à custa do património comum; e
2) aqueles que, fazendo uma distinção entre relações entre cônjuges e relações entre cônjuges e terceiros, admitem que o cônjuge que empregou dinheiro ou valores próprios (ou maioritariamente próprios) na compra se possa socorrer de quaisquer meios de prova para afirmar a natureza de bem próprio, vendo-se estabelecida, no aludido preceito legal, uma presunção juris tantum de comunicabilidade, conquanto limitada às relações entre cônjuges.
O Supremo Tribunal de Justiça uniformizou jurisprudência [4], no Acórdão n.º 12/2015, de 2 de julho de 2015, desta forma:
«Estando em causa apenas os interesses dos cônjuges, que não os de terceiros, a omissão no título aquisitivo das menções constantes do artigo 1723.º, c) do Código Civil, não impede que o cônjuge, dono exclusivo dos meios utilizados na aquisição de outros bens na constância do casamento no regime supletivo da comunhão de adquiridos, e ainda que não tenha intervindo no documento aquisitivo, prove por qualquer meio, que o bem adquirido o foi apenas com dinheiro ou seus bens próprios; feita essa prova, o bem adquirido é próprio, não integrando a comunhão conjugal»
O Acórdão teve declarações de voto de vencido de seis Senhores Conselheiros e, sem prejuízo do respeito pela sua força persuasiva reforçada, tem sido alvo de críticas severas.
Rita Lobo Xavier [5], aliás, propõe, face àquilo que apelida de equívocos da decisão e da respetiva fundamentação, uma reflexão sobre a natureza jurídica da decisão uniformizadora, a sua interpretação e possibilidades de superação do entendimento firmado.
***
Com estas reflexões não pretendo voltar a escalpelizar o Acórdão. Já o fizeram exemplarmente outros [6] e não aspiro a - nem conseguiria - repetir o feito.
O que me traz aqui é a releitura, por uma daquelas coincidências induzidas pelo confinamento dos últimos tempos, do magnífico The Case of the Speluncean Explorers, de Lon Fuller, publicado na Harvard Law Review em 1949 [7].
Trata-se de uma obra prima da teoria jurídica: um caso fictício escrito pelo professor de Direito de Harvard para ilustrar várias correntes jurisprudenciais, correspondentes a outras tantas maneiras de olhar o Direito.
Os factos do caso são estes: cinco espeleólogos ficam presos por uma derrocada enquanto exploram uma caverna.
Quando se dá pela sua falta, consegue-se estabelecer uma linha de comunicação com o exterior e por ela percebem a dificuldade e custo que representará o seu salvamento. Percebem ainda que esse salvamento, a ser conseguido, demorará talvez semanas e que as poucas provisões que consigo levavam não lhes permitirão sobreviver até lá.
Não há forma de lhes levar comida. Compreendem, portanto, que a única hipótese de sobrevivência é matar e comer um de entre eles.
Um pouco como o caso – esse verdadeiro – The Queen V. Dudley and Stephens, que é muito usado em aulas de Filosofia do Direito, de Criminologia e de Bioética [8].
Voltando aos infelizes espeleólogos: todos concordam, ainda que consternados, que é essa a única forma de (alguns) sobreviverem.
Comunicam a sua conclusão a quem os ouve do lado de fora e ninguém consegue assegurar-lhes que o salvamento chegará a tempo, mas também ninguém se atreve a opinar sobre o dilema em que se encontram.
Traçam, portanto, um plano, que é o de tirar à sorte (através do lançamento de dados que um deles, por coincidência, tinha no bolso) qual deles será o sacrificado.
Chegado o momento de o fazer, um dos espeleólogos, chamado Whetmore, retira o seu acordo ao plano, afirmando que não lhe parece que o caso seja ainda tão desesperado e que prefere esperar mais algum tempo.
Os colegas, esfomeados, não querem esperar e fazem o sorteio. Lançam os dados também pelo que não quer participar (método que o próprio Whetmore achou justo) e, por pura alea, calha a Whetmore o sacrifício.
O desgraçado é morto e comido pelos quatro restantes.
Uma vez salvos, os quatro sobreviventes são julgados por homicídio e considerados culpados, mas quer o Júri quer o Juiz do caso têm alguma dificuldade em aplicar-lhe a pena prevista para homicídio, que é a pena de morte. O poder executivo pondera um indulto.
Decidem todos, diante desta perplexidade, pedir apoio ao fictício Supremo Tribunal de Newgarth.
Nesse Tribunal há cinco fictícios Conselheiros chamados a julgar, de seu nome Truepenny, Foster, Keen, Handy e Tatting.
Este último declara que não consegue pronunciar-se, tal é o conflito entre o que o intelecto e a emoção que o caso lhe suscita.
Os restantes pronunciam quatro diferentes opiniões, que ilustram fundamentalmente o conflito entre o positivismo, o direito natural e o realismo legal, bem como as idiossincrasias do processo judicial.
Destes quatro, é a argumentação do fictício Conselheiro Keen que aqui me traz. Enquanto lia, a decisão que me vinha à mente era esta: o Acórdão do STJ, Uniformizador de Jurisprudência, n.º 12/2015, de 2 de julho de 2015.
Há outros ilustres exemplos, mas a verdade é que era deste, pela exasperação que ainda hoje me causa quando tenho de o explicar aos nossos Estudantes de Direito da Família a cada quinto semestre, que mais me recordava enquanto lia o Conselheiro Keen.
É que o dito Keen começa por apontar aos restantes as duas coisas que o Tribunal não foi chamado a julgar: se os condenados devem ser indultados – poder que cabe ao Executivo – ou se o que fizeram é bom ou mau, certo ou errado - questão que pertence ao ramo da Moral.
Ao Tribunal, diz, não cabe dispensar juízos morais nem fazer Direito. Cabe-lhe unicamente aplicá-lo.
Como tal, não vê qualquer motivo para mais discussão: os espeleólogos cometeram homicídio, a pena é a morte e a questão está resolvida.
O problema é que, diz, nem o Júri nem o Juiz nem o Chefe do Executivo nem os restantes Conselheiros do Supremo Tribunal de Newgarth gostam dessa solução.
Repugna-lhes, não em abstrato, mas no caso concreto, aplicar a pena. E essa repugnância acaba por atiçar nos putativos Conselheiros uma vontade que (é Keen quem acusa) lhes surge amiúde em ocasiões em que a solução que a lei impõe lhes repugna: desatam a legislar.
O procedimento que leva a tal resultado legislativo-jurisprudencial tem três momentos, ensina o fictício Conselheiro Keen.
No primeiro, procura-se na lei um propósito ou ratio. Isto só pode ser feito, claro, com poderes de adivinhação, tantos são os propósitos que uma lei pode ter e as interpretações a que pode ser sujeita.
Depois, descobre-se que àquele ente mítico chamado o legislador escapou, por distração ou inépcia, algum pormenor, o que deixou a norma imperfeita.
Finalmente, vem o momento mais satisfatório: o Tribunal corrige a falta do legislador de acordo com o verdadeiro propósito da norma!
Quod erat faciendum.
***
Deixemos por uns momentos os espeleólogos e regressemos ao Acórdão do título.
Lá também se conjeturou um propósito para a norma: o do artigo 1723.º, alínea c), do Código Civil português seria, lê-se na fundamentação do Acórdão, o de garantir a igualdade entre os cônjuges.
Assim se desvirtuou quer o regime da comunhão de adquiridos quer o sistema de transmissão do direito de propriedade [9].
Em qualquer caso, um Acórdão Uniformizador de Jurisprudência, expoente máximo da atividade judicativa de um Tribunal de Revista, como diz Abrantes Geraldes [10], sendo dotado de grande força persuasiva, não tem carácter vinculativo a não ser no caso em que é proferido – cf. o n.º 1 do artigo 4.º da LOSJ.
O Processo Civil português tem oscilado, ao longo de já bem mais do que um século, entre a jurisprudência qualificada - a jurisprudência plena ou proferida em Tribunal pleno - e a jurisprudência legislativa - o assento, que dava, precisamente, assento àquilo que Martins de Carvalho classificou como “ambições legislativas de alguns julgadores” [11].
O acórdão uniformizador de hoje, que substituiu o assento de ontem, está claramente do lado da preferência pela jurisprudência qualificada e não do lado da força legislativa.
Pelo que a súmula (que supra transcrevi) não é uma norma [12]. Convém sempre que nos recordemos isso.
***
É tempo de revelar o destino dos espeleólogos: foi o cadafalso.
É que, como alertou o sábio Keen, há que aprender a ignorar os efeitos de curto prazo, concretos, de uma decisão judicial e pensar a longo prazo.
Uma decisão dura nunca é popular. Causa, porém, menos dano à sociedade, ao sistema jurídico, à confiança no Direito e nos Tribunais, do que utilizar uma suposta falha ou propósito obscuro da lei para justificar a decisão que naquele caso mais agrada ou menos repugna.
A tentação de esquecer o princípio da separação de poderes e de legislar não acomete apenas (fictícios) Juízes. Atormenta muitos Professores de Direito e eu própria já cai nela numa ou noutra ocasião.
Somos todos, no fundo, como contava Keen, o homem que, detestando queijo, foi forçado a engolir um queijo suíço. Quando lhe perguntaram como o achou, respondeu que o que mais apreciou foram os buracos.
[1] Para maior detalhe sobre o que aqui designo como comunhão conjugal, vide Costa, Eva Dias. Breves considerações acerca do regime transitório aplicável às relações patrimoniais dos ex-cônjuges entre a dissolução do casamento e a partilha. Revista do Instituto de Direito Brasileiro. 21.11.2013; disponível em http://www.idb-fdul.com/modo1_cat.php?sid=52&ssid=116&cid=48.
[2] V. Coelho, Francisco Pereira, Oliveira, Guilherme de. Curso de Direito da Família: Volume I: Introdução Direito Matrimonial. 5.a Edição. Imprensa da Universidade de Coimbra; 2016 e Xavier, Rita Lobo. “Omissão das formalidades exigidas pela norma da alínea c) do artigo 1723.º do Código Civil para a sub-rogação real indireta de bens próprios no regime da comunhão de adquiridos: o Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 12/2015 e as novas dimensões do problema”. Julgar. 2020; 40: 13–31.
[3] V. Xavier, Rita Lobo. Limites à Autonomia Privada na Disciplina das Relações Patrimoniais Entre os Cônjuges. Almedina; 2000.
[4] Aliás, o Acórdão extravasou a discussão doutrinal e jurisprudencial que existia, ao estender a possibilidade de sub-rogação real para o cônjuge que nem sequer tenha intervindo no título aquisitivo!
[5] Cf. Xavier, Rita Lobo, “Omissão das formalidades …”, op. cit..
[6] Vide Xavier, Rita Lobo, “Omissão das formalidades …”, op. cit.,e ainda Dias, Cristina Araújo. “Bens sub-rogados no lugar de bens próprios. Omissão no título aquisitivo das menções constantes do art. 1723.º, al. c), do Código Civil – anotação ao Acórdão Uniformizador de Jurisprudência n.º 12/2015, de 2 de julho de 2015”. Cadernos de Direito Privado. 2015 ;(51): pp. 59–85, e Marques, João Paulo Remédio. “Reflexões sobre a alínea c) do artigo 1723.o do Código Civil e o Acórdão Uniformizador do STJ n.º 12/2015, de 2 de julho, à luz de uma perspetiva histórica.” Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos Pamplona Corte-Real. Coimbra: Almedina; 2016. pp. 131–143.
[7] Fuller, Lon. L.. “The Case of the Spelucean Explorers”, Harvard Law Review, Vol. 62, n.º 4, fevereiro de 1949.
[8] R v Dudley and Stephens (1884) 14 QBD 273 DC, que criou o precedente de que o estado de necessidade não é cláusula de exclusão da culpa no homicídio: “Killing an innocent life to save one’s own does not justify murder even if it under extreme necessity of hunger.” Cf., por exemplo, Williams, Glanville “A Commentary on R. v. Dudley and Stephens”, Cambrian L. Review, Vol. 94, n.º 8, 1977; ou Bohlander, Michael, “Of Shipwrecked Sailors, Unborn Children, Conjoined Twins and Hijacked Airplanes—Taking Human Life and the Defence of Necessity”, The Journal of Criminal Law, Vol. 70, n.º 2, 2006, pp. 147-161. doi:10.1350/jcla.2006.70.2.147
[9] Xavier, op. cit..
[10] Geraldes, Abrantes. Uniformização de Jurisprudência: texto que serviria de base à intervenção programada no Colóquio realizado no Supremo Tribunal de Justiça, no dia 26-06-2015. Disponível em https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ager_MA_26301.pdf.
[11] In RLJ, ano 105.º, apud Mendonça, Luís Correia de. “As Origens do Código Civil de 1966: Esboço para uma contribuição”, Análise Social, XVIII (1982), pp. 829-867.
[12] Xavier, Rita Lobo, “Omissão das formalidades…”, op. cit..
Eva Dias Costa [*]
Eva Dias Costa [*]
[*] Doutora em Direito, Professora Universitária ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0262-977X.
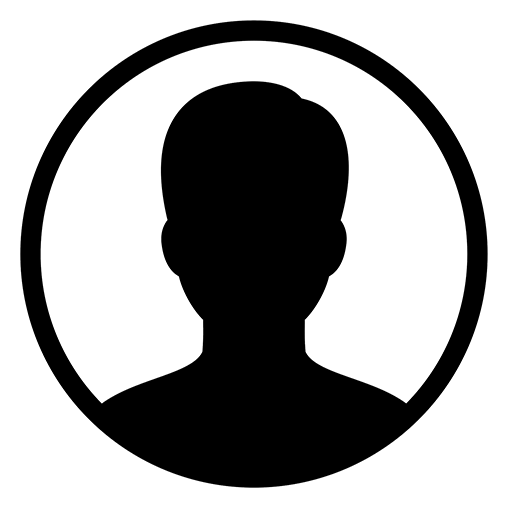 Paulo Duarte
Paulo Duarte
 Entre com a OA
Entre com a OA